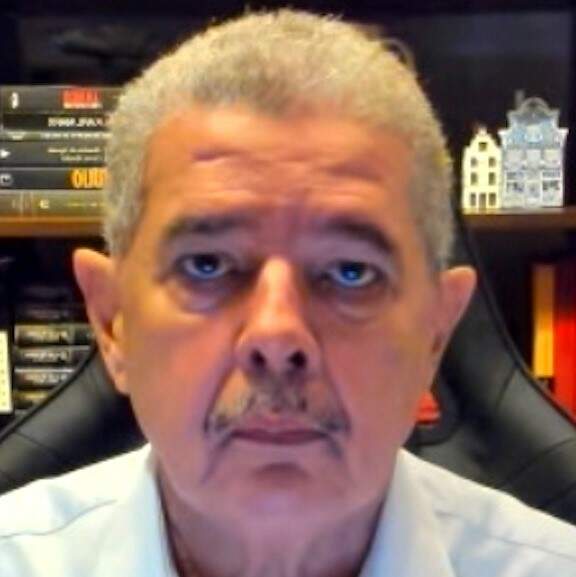Secularismo e laicismo no Brasil

Confirmada a vitória nas urnas, Jair Bolsonaro resolveu iniciar o período de Presidente eleito com uma prece. O gesto provocou calafrios em parte da esquerda cultural. Em poucas horas, registraram-se críticas num espectro que ia de Miriam Leitão a Milton Hatoum, e há de supor-se que muito mais gente terá desgostado da oração em cadeia nacional. Em todas essas críticas havia um substrato comum: ao coroar a vitória com a prece, o Presidente eleito contribuía para enfraquecer o Estado laico.

A futura primeira-dama e o presidente eleito em oração.
Muito respeitosamente, quem assina estas linhas argumenta que essa percepção se escora num entendimento equivocado do que sejam as nossas instituições. Em democracia, haverá muitas razões legítimas, até mesmo de ordem estética, para recriminar o gesto, mas elas não expressarão mais do que a preferência do crítico por outro estilo de política. Mas assacar a Bolsonaro qualquer violação a princípios constitucionais é confundir os conceitos de Estado laico, que não se aplica aqui, e de Estado secular, que é o da nossa tradição e o que está devidamente consagrado no art. 19, inciso I da Constituição da República.
A diferença entre um e outro conceito, entre laicismo e secularismo, será talvez sutil, até mesmo porque ambos foram tratados como sinônimos até muito recentemente pelos melhores autores. Mas o acervo bibliográfico parece não se dar conta de que, na acepção que hoje emprega a esquerda cultural, o termo “laicismo” expressa uma derivação relativamente recente e perfeitamente extrema da laïcité por que se bateram homens públicos como Jules Ferry ou Aristide Briand. E que, portanto, se é essa a acepção consagrada, é forçoso reconhecer que o Brasil não é um Estado laico, mas um Estado secular.
Mas admitamos de entrada que laicismo e secularismo são conceitos análogos e que seguiram caminhos paralelos desde que se assentaram, aí por meados do século XVIII. Têm por base, ambos, a prescrição bíblica (Mateus 22:21, Marcos 12:17, Lucas 20:25) de que autoridade terrena e autoridade divina não devem ultrapassar a jurisdição uma da outra (“a César o que é de César, a Deus o que é de Deus”). Eram, na essência, a negação do Estado confessional dos séculos precedentes, que no dizer de Norberto Bobbio é aquele “que assume como sua uma determinada religião e privilegia os seus fiéis em relação aos crentes de outras religiões e aos não crentes”. Esse estado de coisas, que lançava raízes em passado distante, ganhara visos de perenidade com a Paz de Augsburgo, em 1555, quando passou a imperar por toda a parte o princípio do cuius regio, eius religio. Mas será abalado por completo com as convulsões de fins do século XVIII, em especial com a Revolução Americana (1776) e a Revolução Francesa (1789).
É importante assinalar as duas revoluções porque elas indicam a cristalização dos dois conceitos — secularismo e laicismo — que, se bem análogos, acabarão por diferenciar-se por conta das distintas culturas políticas onde vicejaram. O laicismo é uma ideia de gestação francesa, que em boa medida lança raízes já na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 (cujo art. 10 já prescrevia que “ninguém será molestado por suas opiniões, mesmo as religiosas, desde que a sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida por lei”). Mas vai fortalecer-se de fato na III República (1870-1940), cuja orientação política deveu tanto ao anticlericalismo do Partido Radical. É na III República que Jules Ferry tornará lei (1881-1882) a instrução pública, obrigatória e laica (extirpando das escolas públicas qualquer instrução religiosa), como é na III República que Aristide Briand consagrará em lei (1905) a separação da Igreja e do Estado (garantindo “a liberdade de consciência” e “o livre exercício de cultos”, sem “reconhecer, remunerar ou subvencionar culto algum”).
O secularismo, em contrapartida, é conceito anglo-saxão, que lança raízes na Idade Média (as Constituições de Clarendon, outorgadas por Henrique II em 1164) e se robustece na experiência colonial americana (notadamente com as constituições coloniais da Pensilvânia e de Nova Jérsei). Mas frutifica mesmo é com a primeira emenda, de 1891, à Constituição americana de 1887, por força da qual “o Congresso não fará qualquer lei sobre o estabelecimento de uma religião, ou proibindo o seu livre exercício”. Noutras palavras, ficava o Estado recém-criado proibido de estabelecer para si um culto oficial (como o anglicanismo da antiga metrópole), de subvencionar-lhe o funcionamento e de privilegiar-lhe os fiéis sob qualquer pretexto.
Repare-se que, em suas acepções originais, nem o conceito francês, nem o americano tinham qualquer objeção a opor a que os homens públicos exercessem livre e abertamente as suas crenças e se deixassem influenciar por seus postulados. Tanto é assim que o documento fundacional da república americana, a Declaração de Independência de 1776, já começa atribuindo às “leis da Natureza e às leis de Deus” o direito à separação, para logo a seguir responsabilizar “o Criador” por inculcar-nos “certos direitos naturais, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade”.
Ao longo de mais de dois séculos, a república americana permaneceu fiel ao equilíbrio encontrado pelos founding fathers nesta questão. Por ali nunca houve, nem haverá, qualquer coisa de parecido com o anglicanismo dos ingleses, o galicanismo dos franceses ou o padroado que vigeu entre nós no Império. Haverá, aqui e ali, controvérsias localizadas sobre a admissibilidade da oração nas escolas públicas, ou de obras pictóricas sobre os Dez Mandamentos em tribunais de justiça, mas a ninguém ocorre censurar um homem público por manifestar publicamente a sua fé. Nem poderia, por ser a própria simbologia pátria tão carregada da crença em Deus, como o comprova a onipresença, nas cerimônias cívicas, do Battle Hymn of the Republic (“Glória, Glória, Aleluia”) e de America, the Beautiful (“Deus derramou a Sua Graça sobre ti”).
Na França, em contrapartida, o equilíbrio foi-se perdendo gradualmente, até alcançar o paroxismo da laïcité à outrance das últimas décadas. Se recorrermos de novo a Bobbio (cujas simpatias socialistas são, no entanto, evidentes), aprenderemos que “o Estado leigo, corretamente percebido, não professa […] uma ideologia laicista, se com isso entendermos uma ideologia irreligiosa ou antirreligiosa”. Mais: que “o laicismo se revela incompatível com todo e qualquer regime que pretenda impor aos cidadãos, não apenas uma religião de Estado, mas também uma irreligião de Estado”.
E, no entanto, aos pouquinhos, foi gradualmente isto o que se deu na França. Talvez a gênese do fenômeno estivesse já lá, em estado germinal, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Repare-se que, ao contrário da Declaração de Independência americana, o documento francês não traz qualquer referência metafísica, o que ao menos autoriza a especulação de que o laicismo francês já fosse potencialmente agnóstico desde a sua incepção. As vicissitudes da história francesa nas décadas subseqüentes, como a expulsão das congregações em 1880, terão contribuído para potencializar o que até então eram apenas tendências.
Seja como for, é no mínimo digno de nota que, logo após a Primeira Guerra, é nessa laïcité francesa agnóstica, não no secularismo anglo-saxão, que Mustafá Kemal Atatürk vai buscar inspiração para fundar a moderna república turca. Uma república ancorada num laicismo, mais do que neutro, hostil à ideia mesma da religião, julgada uma das causas primordiais do atraso de seu povo. Um laicismo tão extremado que, por repugnar à consciência mesma da Anatólia profunda, só pôde implementar-se à força da perene tutela do Exército. Um laicismo tão militante que seus excessos redundarão, décadas depois, na reação dos humilhados e ofendidos em sua fé, que desde fins dos 1990 vão alinhar-se detrás do neo-otomanismo de Recep Tayyip Erdoğan.
Fato é que na França — voltemos a ela —, ao longo do século XX, a ideia de um laicismo neutro, em que ao Estado basta apenas não manifestar preferências, vai aos poucos cedendo espaço ao conceito de um laicismo ativo, avesso a toda e qualquer influência religiosa sobre os debates públicos. O fenômeno está intimamente ligado à expansão do Islã entre as comunidades imigrantes e à conseqüente expectativa, entre elas, de que as leis da república tomem em conta, cada vez mais, as sensibilidades sociais e culturais ancoradas na Charia, no direito islâmico. E é em reação a essa expectativa que o establishment francês cerrará fileiras detrás de um novo laicismo, estribado num sentido de “excepcionalismo francês”, e em tudo oposto ao modelo anglo-saxão, julgado excessivamente acomodatício com a presença das religiões no espaço público. A partir de então, mais do que impedir o patrocínio estatal a um culto preferencial, trata-se, para os franceses, de banir qualquer sentimento religioso do debate público, de “tornar asséptico tudo o que é religioso, percebido como um micróbio que corrompe a convivência”.
Não é preciso muito mais para perceber que é este laicismo deturpado a inspiração dos que, na esquerda cultural brasileira, se insurgiram contra uma simples prece do Presidente eleito. E nem é preciso elucubrar muito para vislumbrar as derivações potencialmente ruinosas desse discurso: se os proponentes de um laicismo extremado vencerem esta batalha cultural, ficam proscritos dos debates públicos — por exemplo, sobre o aborto ou a eutanásia — quaisquer pontos de vista ancorados em valores religiosos. Sendo laico o Estado, passam a ser forçosamente laicos também os embates em torno de políticas públicas, o que em si e por si representaria violação intolerável ao princípio da liberdade de consciência.
Parece excessivo? Pois é justamente o que se passa na França hoje, e o exemplo francês ganha terreno em países até aqui muito mais afeitos ao secularismo brando aos moldes americanos. É observar o exemplo do Canadá, cujo Primeiro-Ministro, o sr. Justin Trudeau, proscreveu, no seio de seu Partido Liberal, quaisquer discussões em torno do tema do aborto, por enxergar no debate uma intromissão odiosa da religião na política.
Ocorre que nenhum desses pontos de vista radicais encontra guarida na Constituição brasileira. É reler o inciso I do art. 21. Ele prescreve apenas que “é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público”. Essa formulação, com a ideia do “estabelecimento de cultos religiosos” em primeiro plano, é patentemente inspirada no modelo americano do secularismo, não na perversão do laicismo que passou a viger noutras latitudes. Excetuada a hipótese extrema de a União ou um ente federado ver-se capturado por um culto religioso específico, ressalvadas as cláusulas pétreas e o direito dos não crentes de continuar tocando as suas vidas privadas como melhor lhes aprouver — ressalvadas essas hipóteses, dizíamos, nada nesse dispositivo proíbe um homem público de formular e justificar escolhas com base nos princípios religiosos que compartilhar com o eleitor.
Não fosse assim, a própria Constituição não principiaria invocando “a proteção de Deus” ao inaugurar a ordem jurídica vigente. Houve quem, lá atrás, desgostasse dessa referência religiosa do preâmbulo, e foi em parte por isso que o Partido dos Trabalhadores votou contra o texto afinal promulgado a 5 de outubro de 1988. Só que essa batalha a esquerda cultural perdeu, e o Brasil que construímos não é jamais um Estado laico, mas um Estado secular. Hoje, baixada a poeira das eleições, e quando mais se impõe a pacificação entre os brasileiros, é importantíssimo ressaltar este ponto, porque é apenas em torno dele que encontraremos a necessária margem de acomodação entre sensibilidades tão diversas. Em qualquer hipótese, insistir numa perversão do laicismo seria deturpar o sentido de nossa própria história e de nossas normas mais básicas de convivência.