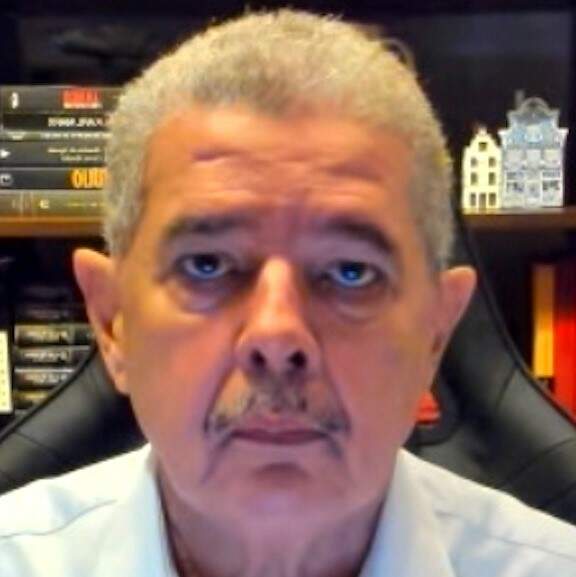O Brasil no barco de Ulisses

(Preparei este texto há cerca de quatro meses, para uma publicação que não se concretizou, mas creio que ainda pode ser pertinente ao debate sobre os rumos do Brasil diante dos horizontes que se abrem com a eleição de Jair Bolsonaro.)
Em meio às reflexões sobre a inserção internacional do Brasil há uma questão adormecida, uma pergunta incômoda, mas que necessita ser feita – inclusive porque às vezes uma pergunta pode ser mais valiosa do que muitas respostas: o Brasil pertence ao Ocidente?
Numa perspectiva tradicional dos estudos de relações internacionais, fazer parte do Ocidente significava, até algum tempo atrás, fazer parte de um bloco geopolítico comandado pelos Estados Unidos, numa posição um pouco clientelista que causava aversão a um país com vocação de política externa independente como o Brasil. Felizmente essa perspectiva foi superada gradativamente após o final da Guerra Fria, mas deixou atrás de si uma certa cautela em relação ao conceito de Ocidente, como se este evocasse necessariamente uma relação centro-periferia incompatível com nossa autopercepção.
Mais recentemente, suspeitávamos que o Ocidente estivesse em inevitável decadência, num cenário onde o futuro pertenceria à Ásia, à China, à Índia, aos países francamente não ocidentais, e assim relutávamos em dizer-nos francamente ocidentais para não apostar em cavalo fraco. Hoje não se fala já tanto nessa emergência de um mundo pós-Ocidental. Suponho que a razão desse súbito silêncio se encontre na reação exacerbada dos formadores de opinião à figura de Donald Trump. Continuar propagando a ideia de um mundo já não regido pelo Ocidente alimentaria, na visão do establishment, as pretensões de Trump de reverter esse quadro, de contrapor-se ao poder da China e restaurar a centralidade de uma América great again. O establishment anti-Trump tenta hoje difundir a imagem de que está tudo bem, tudo normal, de que o único problema do Ocidente é o próprio Trump, tentando ocultar algo que até ontem parecia óbvio: a enorme perda de poder relativo – econômico, diplomático e militar – dos ocidentais em favor dos não-ocidentais ao longo das últimas duas décadas, principalmente durante o governo Obama. A elite político-econômica internacional – inclusive nos EUA – queria que o presidente dos Estados Unidos fosse um afável gestor do declínio, pois esse declínio está na essência do globalismo supranacional ao qual essa elite adere, e não um restaurador do poderio americano e ocidental. Vendo-se confrontados por um líder que não está disposto a ceder o comando do mundo, procuram agora mostrar que as ameaças a esse comando são puramente imaginárias.
Também se deve lembrar que, historicamente, o perfil internacional do Brasil sempre foi bastante dialético, o perfil de um país que procurava fazer parte de tudo e colocar seu traço em todas as geometrias, num conjunto de pertencimentos não-excludentes que, segundo alguns, representa a essência de nossa nacionalidade e de nossa política externa. Não queremos estar fora de nenhum grupo e portanto não poderíamos ter uma identidade exclusiva que nos alijasse de outros cenários e de outras áreas de atuação. Nessa hipótese, ao admitir sermos parte do Ocidente, estaríamos automaticamente dizendo que não fazemos parte do não-Ocidente, e isso nos fecharia certas avenidas que queremos manter abertas, embora, pelo mesmo motivo, não queiramos tampouco dizer explicitamente que não pertencemos ao Ocidente.
 Igualmente se poderia argumentar que não somos do Ocidente porque, em certa visão, o Ocidente se confunde com os países ricos, com o “Primeiro Mundo”, e sendo pobres necessariamente não poderíamos ser ocidentais. Curiosamente a ideia de tornar-se membro do Primeiro Mundo nunca atraiu nosso estamento de política externa. Esse impulso permaneceu durante muito tempo como um legado maldito da era Collor, como se fosse um pecado querer tornar-se um país próspero e poderoso, como se fosse um absurdo ter objetivos ambiciosos e voluntariamente devêssemos condenar-nos a um eterno “em desenvolvimento” onde o estado de desenvolvido nunca é alcançado, um flagelo de Sísifo auto-imposto ou uma espécie de voto de pobreza diplomático. Hoje abandonamos felizmente esse voto e pedimos adesão à OCDE, tradicional clube do Ocidente desenvolvido (o Ocidente em sua dimensão econômica, que inclui também alguns países asiáticos), uma grande e importante inovação da atual gestão da política externa brasileira. Mas pleitear adesão à OCDE não significa ainda assumir nossa alma ocidental.
Igualmente se poderia argumentar que não somos do Ocidente porque, em certa visão, o Ocidente se confunde com os países ricos, com o “Primeiro Mundo”, e sendo pobres necessariamente não poderíamos ser ocidentais. Curiosamente a ideia de tornar-se membro do Primeiro Mundo nunca atraiu nosso estamento de política externa. Esse impulso permaneceu durante muito tempo como um legado maldito da era Collor, como se fosse um pecado querer tornar-se um país próspero e poderoso, como se fosse um absurdo ter objetivos ambiciosos e voluntariamente devêssemos condenar-nos a um eterno “em desenvolvimento” onde o estado de desenvolvido nunca é alcançado, um flagelo de Sísifo auto-imposto ou uma espécie de voto de pobreza diplomático. Hoje abandonamos felizmente esse voto e pedimos adesão à OCDE, tradicional clube do Ocidente desenvolvido (o Ocidente em sua dimensão econômica, que inclui também alguns países asiáticos), uma grande e importante inovação da atual gestão da política externa brasileira. Mas pleitear adesão à OCDE não significa ainda assumir nossa alma ocidental.
O Brasil também reluta em qualificar-se como ocidental pelo fato de que nunca quis associar-se à chamada “aliança atlântica”, nem sequer explorar essa possibilidade – mesmo possuindo, com seus 7.000 quilômetros de costa, o mais longo litoral atlântico. Diante dessa concepção militar ou securitária do Ocidente, estruturado fundamentalmente como a aliança euro-americana que se opunha ao bloco soviético, o Brasil sempre preferiu manter-se distante, admitindo ter afinidades com o bloco ocidental mas sem posicionar-se decididamente do conflito Leste-Oeste, achando que isso seria limitante e arriscado, e que teríamos mais a ganhar preservando nossas ambiguidades.
Por outra parte, talvez persista na nossa atitude frente à ideia de Ocidente um ranço antimonárquico. De certa forma, no nosso inconsciente histórico, Ocidente é Europa e Europa é ainda aquele conjunto de casas reais com as quais nossa casa imperial se relacionava e se correspondia como parte da mesma família. A instauração da república em 1889 tornou anátema qualquer tipo de laços desse tipo, cortou uma linha de identidade autêntica e a substituiu à força por uma fraternidade americanista um pouco artificial. (Nisso como em tantas coisas – por exemplo, ao trocar a cruz da Ordem de Cristo no centro da bandeira pelo lema que consagra uma outra “ordem”, neste caso positivista – a proclamação da república foi um duro golpe simbólico sobre o Brasil profundo. O bom é que, ao longo do tempo, o espírito conciliador brasileiro apagou esse trauma e reatou algumas antigas linhas, tanto que até hoje, ao vestir a camisa da seleção brasileira, carregamos no peito, sem nos dar conta, a velha cruz da bandeira imperial, a mesma cruz das caravelas, a mesma dos bandeirantes e dos cavaleiros templários.)
A soma desses medos, rupturas, tergiversações e recusas não nos permite ainda uma resposta clara sobre nossa ocidentalidade. Aparentemente, optamos sempre por definições do Ocidente que nos excluam, para não termos o trabalho de investigarmos nossa própria identidade e a partir dela – não a partir de critérios alheios – definir esse pertencimento. Se por várias razões temos tanta dificuldade em reconhecer-nos como ocidentais, tampouco estamos preparados para pronunciar claramente um “não” ao Ocidente. Relutamos em fechar atrás de nós a porta da casa ocidental e ficar fora de algo que vagamente percebemos como sendo nosso. Encontra-se talvez aqui a semente de uma outra resposta, pela intuição de uma identidade bem mais profunda do que as considerações geopolíticas, econômicas ou étnicas de que acima falamos.
II
Há que repropor o problema do Ocidente. Se a dúvida existencial quanto a ser ou não ser Ocidente sempre foi uma questão espinhosa para os brasileiros, hoje o é também para aqueles que sempre se consideraram indiscutivelmente ocidentais, os europeus e os americanos do norte. O pertencimento ao Ocidente deixou de ser óbvio para os ocidentais. Reprogramada pelo marxismo cultural, a mentalidade de europeus e norte-americanos passou a rejeitar sua própria herança cultural e histórica, identificando o Ocidente exclusivamente com os males do colonialismo, do racismo, do imperialismo. A maioria dos europeus e os “liberais” norte-americanos, incluindo evidentemente a elite intelectual, passaram a sentir o Ocidente não mais como uma experiência multissecular arraigada nas cem mil estradas da história, mas apenas como uma opção moderna e asséptica pelo que chamam a “democracia liberal”. Enxergam apenas um Ocidente caracterizado por “valores”, e não por uma cultura, não pelo gigantesco e magnífico tecido de mitos e sentimentos que começou talvez ainda antes dos gregos, talvez em Creta, para onde Zeus, transformado em Touro, levou a princesa Europa (e é curioso, a propósito, olhar a esquálida representação de Europa montada em Zeus-Touro na escultura colocada em frente ao Conselho da União Europeia em Bruxelas, obra extremamente representativa de uma civilização que não se preza a si mesma, uma Europa sem face e oca sobre um touro igualmente oco e esburacado). Nada de mitos, nada de histórias, apenas “valores” abstratos, os famosos “valores democráticos” nunca suficientemente definidos (pois examinar valores para tentar defini-los já é um pouco questioná-los). Aliás, se a busca de definições a partir do exame lógico dos conceitos é marca fundamental do pensamento ocidental, a elevação dos “valores” ao patamar do indiscutível atesta o quanto o Ocidente atual se afasta de suas próprias tradições intelectuais.
 O certo é que o Ocidente não nasceu com a Guerra Fria. Há que ir muito mais longe para poder discutir o que está em jogo. Nas antigas tradições pagãs da Europa, ficava sempre no Oeste a terra da felicidade, as ilhas afortunadas, os Campos Elísios de onde sopra o vento Zéfiro que alegra os homens, o jardim dos pomos de ouro (o jardim das Hespérides, onde o grego hesper corresponde ao latim vesper, a tarde, a direção do entardecer, o Ocidente, da mesma raiz do germânico west de onde provém através dos visigodos o português oeste). Aqui pode-se apontar uma diferença determinante entre os paganismos europeus (grego, germano, celta) e os do oriente antigo, pois para estes últimos a direção mais sagrada sempre foi o nascente, o Oriente. De certa forma o Ocidente nasceu com os gregos não só pela fundação de todas as tradições culturais que se conhecem, mas também por ser o primeiro povo que conscientemente identificou o sagrado, o numinoso, ao menos em parte, com a direção do sol poente. Sob o risco de generalizar barbaramente as complexas questões da arqueoastronomia e da arquitetura religiosa antiga, pode-se dizer que os gregos fizeram um giro de 180 graus na direção do sagrado, e com isso redirecionaram a história.
O certo é que o Ocidente não nasceu com a Guerra Fria. Há que ir muito mais longe para poder discutir o que está em jogo. Nas antigas tradições pagãs da Europa, ficava sempre no Oeste a terra da felicidade, as ilhas afortunadas, os Campos Elísios de onde sopra o vento Zéfiro que alegra os homens, o jardim dos pomos de ouro (o jardim das Hespérides, onde o grego hesper corresponde ao latim vesper, a tarde, a direção do entardecer, o Ocidente, da mesma raiz do germânico west de onde provém através dos visigodos o português oeste). Aqui pode-se apontar uma diferença determinante entre os paganismos europeus (grego, germano, celta) e os do oriente antigo, pois para estes últimos a direção mais sagrada sempre foi o nascente, o Oriente. De certa forma o Ocidente nasceu com os gregos não só pela fundação de todas as tradições culturais que se conhecem, mas também por ser o primeiro povo que conscientemente identificou o sagrado, o numinoso, ao menos em parte, com a direção do sol poente. Sob o risco de generalizar barbaramente as complexas questões da arqueoastronomia e da arquitetura religiosa antiga, pode-se dizer que os gregos fizeram um giro de 180 graus na direção do sagrado, e com isso redirecionaram a história.
O giro da direção sagrada de leste para oeste guarda relação com a fundamental mudança na vivência do tempo que diferencia os gregos das civilizações médio-orientais. A primazia simbólica do leste tende a colocar o centro de gravidade de uma cultura no passado, na origem do dia eternamente repetida; a primazia do oeste desloca o centro para o futuro, o destino do sol sempre buscado e nunca alcançado. Com o giro, nasce o sentimento histórico. Ao lançar-se ao mar os gregos lançam-se também ao tempo. A história como sensação de estar dentro de uma marcha rumo ao desconhecido e de poder influenciá-la, a expectativa permanente do novo por oposição ao “eterno retorno”: trata-se aqui também de uma invenção grega. Os gregos não criaram apenas a palavra “história” e a narrativa histórica, mas trouxeram ao mundo o próprio conteúdo desse conceito. Como em tantos outros exemplos, a palavra grega aqui é criadora e instauradora de uma realidade, e não simplesmente designadora. A história, portanto, é uma ideia essencialmente ocidental e o Ocidente é essencialmente histórico, uma milenar epopeia dialética onde se contrapõem, convivem e se recombinam o Ser e o Tempo. Não por acaso os grandes projetos de aniquilação ou superação do Ocidente – o marxismo e sua atual reconfiguração no globalismo – pregam e desejam o fim da história.
(O Ocidente também é essencialmente histórico graças às suas raízes bíblicas. A Bíblia é basicamente a história da salvação, numa estrutura dramática onde tudo se relaciona com tudo e onde a relação do homem com Deus se exerce na história, no tempo: eis a grande inovação do judaísmo, que transforma a divindade em algo histórico e a história em algo divino. Essa concepção se transpõe desde o início para o cristianismo, mas vem sendo esquecida em nossa pobre visão de mundo contemporânea, onde tudo é compartimentado, onde política e fé não se tocam, onde nada se relaciona com nada e onde o tempo deixa de ser a palpitante vivência do destino para tornar-se apenas a contagem dos minutos. Como diz Santo Agostinho, prefigurando a moderna cosmologia, o mundo foi criado com o tempo, não havia tempo antes da criação. De certa forma, o tempo – vivido como história – é a própria criação, portanto a história tem origem divina, e assim o projeto do fim da história constitui um grande ataque contra a divindade criadora.)
A fé cristã dá continuidade àquela reorientação da simbologia sagrada rumo ao oeste. Ao contrário da maioria dos templos pagãos, orientados para o nascente, a maioria das igrejas cristãs são construídas de frente para o poente. O giro ocidental manifesta-se igualmente no culto a Maria: na hora do entardecer os católicos cantam em louvor à Virgem, identificada com a estrela vespertina, ou seja, o planeta Vênus que brilha pouco acima do horizonte ocidental no pôr-do-sol, a Stella Maris que indica à humanidade navegante o caminho do Cristo.
 A ânsia inextinguível dos gregos pelo mar os conduzia necessariamente para oeste a partir de seu canto no mediterrâneo oriental. Uma lenda conta que Ulisses, muitos anos depois de regressar a Ítaca e reencontrar Penélope, decidiu lançar-se novamente à paixão do mar, chamou os amigos e aventurou-se rumo ao Oceano para além das colunas de Hércules, chegando a fundar, no extremo ocidental do continente, a cidade a que chamou Ulissipo, nome que depois evoluiu para Ulissipona, Lissipona, Lisbona, Lisboa. Fernando Pessoa recorda essa lenda fundacional da lusitanidade e assevera: “o mito é o nada que é tudo”. Ulisses ou não, os portugueses herdaram esse anseio ocidental e dele o Brasil é fruto. Somos o extremo ocidente daquela “ocidental praia lusitana”. Somos outras coisas também? Certamente. Mas sem a origem não somos nada, um ser cortado de sua origem não é ser, apenas subsistir. Se o mito é o nada que é tudo, os brasileiros somos gregos por tabela, somos filhos dos Lusíadas e netos da Odisseia, herdeiros legítimos do milagre grego, romano, europeu, ibérico, ocidental.
A ânsia inextinguível dos gregos pelo mar os conduzia necessariamente para oeste a partir de seu canto no mediterrâneo oriental. Uma lenda conta que Ulisses, muitos anos depois de regressar a Ítaca e reencontrar Penélope, decidiu lançar-se novamente à paixão do mar, chamou os amigos e aventurou-se rumo ao Oceano para além das colunas de Hércules, chegando a fundar, no extremo ocidental do continente, a cidade a que chamou Ulissipo, nome que depois evoluiu para Ulissipona, Lissipona, Lisbona, Lisboa. Fernando Pessoa recorda essa lenda fundacional da lusitanidade e assevera: “o mito é o nada que é tudo”. Ulisses ou não, os portugueses herdaram esse anseio ocidental e dele o Brasil é fruto. Somos o extremo ocidente daquela “ocidental praia lusitana”. Somos outras coisas também? Certamente. Mas sem a origem não somos nada, um ser cortado de sua origem não é ser, apenas subsistir. Se o mito é o nada que é tudo, os brasileiros somos gregos por tabela, somos filhos dos Lusíadas e netos da Odisseia, herdeiros legítimos do milagre grego, romano, europeu, ibérico, ocidental.
(Cabe aqui uma nota sobre Donald Trump e a Europa. Não sei se o presidente Trump leu Homero, imagino que sim, mas de qualquer forma o Ocidente que ele concebe tem lugar para Homero, ao contrário do Ocidente derivado da crítica cultural e do marxismo da escola de Frankfurt, ao contrário também do Ocidente dos “valores liberais” de alguns estadistas europeus. A Dialética do Iluminismo de Adorno e Horckheimer, texto fundamental do marxismo cultural, em grande parte é uma tentativa de desconstruir e condenar a Odisseia como uma celebração do machismo e do colonialismo. E, com a Odisseia, jogam no lixo tudo, Platão, Aristóteles, São Paulo, Santo Agostinho, toda a cultura e tradição e história, todos os reis e feitos e povos e batalhas, tudo para eles não passa de enganação burguesa. Quantas de nossas instituições ocidentais ditas liberais caem, sem perceber, nessa autocondenação suicida? Será que os estadistas europeus leram Adorno e Horckheimer? Mesmo que não tenham lido, parecem seguir inconscientemente pelo caminho deles. Trump desafia os europeus a reatarem com sua história, seus heróis, suas origens, a fecharem os livros da Escola de Frankfurt e reabrirem as epopeias – por isso tantos europeus o detestam, alguns outros o admiram.)
Muitos hoje enxergam no nacionalismo, no sentimento nacional, perigos horríveis e se afastam amedrontados. Há perigo? Claro que sim. Há sempre perigo em ser o que se é. Mas a alternativa é não ser nada, é reduzir-se a um esquema politicamente correto, um estado sem nação, um país sem povo. Dizia Hölderlin: Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, “Mas ali onde há perigo, ali também surge o que salva.” Estamos entrando em um mundo mais perigoso? Sim, felizmente. No Brasil como em todo o Ocidente, nossas raízes demandam essa aventura. Abandonemos nossa zona de conforto como Ulisses quando saiu de sua aposentadoria em Ítaca para fundar a epopeia atlântica e enfrentemos nossa complicada ocidentalidade. Um Brasil desprendido do Ocidente é um Brasil artificial, superficial, um Brasil de plástico.
Guimarães Rosa, entre outros, cultivou a mística de um Brasil profundo e necessariamente ligado aos mananciais europeus, o grande sertão como uma imensa Ibéria, cultivou-o e reinventou-o na sua língua labiríntica e nas estranhas correspondências que fazem as figuras do velho mundo ressurgirem na nossa vastidão. Ariano Suassuna com sua Pedra do Reino buscou o sonho de uma monarquia cabocla vinculada às profundidades do tempo mítico. Ao longo da história brasileira, apenas os nacionalismos mais superficiais e caricatos (como o de Policarpo Quaresma em Lima Barreto) rejeitaram a herança ocidental.
As outras heranças, como a ameríndia, a africana, a japonesa ou a libanesa, não deveriam ser vistas como algo que nos desconecta da herança ocidental, mas como parte de um destino que a potencializa. Seria preferível, aliás, falar de aventura ocidental, mais do que herança, pois a “herança” traz uma conotação estática, de algo a ser simplesmente gerido, enquanto a “aventura” no lança no âmbito da vida em permanente criação, de algo gerado, um processo orgânico em que confluem todas as linhagens. O Brasil e as Américas em geral representam, talvez, não um mero acidente, mas o fulcro essencial dessa aventura.
De fato, o “projeto América” de que o Brasil faz parte surge no início da civilização ocidental, novamente no canto de Homero, quando os heróis primeiro empurraram suas quilhas até o mar salgado e tocaram as ondas divinas, néas men pámproton erýssamen eis hála dían (Odisseia, IV, 577). O impulso ocidental não nasce na ganância de riqueza, mas no desejo de aventura e transcendência, da aventura como transcendência e vice-versa, de rumar ao sagrado através do desconhecido que em si mesmo é sagrado, pois o oceano que esconde as ilhas afortunadas é também o que as proporciona e revela. Por isso o mar e a navegação perfazem um dos mais poderosos símbolos ancestrais do Ocidente, uma civilização marítima por vocação inextirpável.
Dizer que o Ocidente está baseado na democracia até pode ser correto, mas é muito incompleto. O Ocidente está baseado em Homero e em tudo o que veio depois, e um aspecto dessa tradição é a democracia, criação do gênio grego não por acaso, mas como congênere das outras criações. A democracia é essencial ao ocidente de hoje porque faz parte daquela essência original que irrompeu com os gregos e que produziu, ao lado da democracia, também a filosofia, a ciência, as artes, a teologia cristã, o direito, a própria língua grega que ainda falamos todos os dias quando dizemos por exemplo “lógica” ou “mistério” e sem a qual a vida do espírito seria impossível – tudo isso fruto do mesmo impulso de maravilhamento e liberdade. Não podemos, ou não devemos, ficar só com a democracia e jogar fora todo o resto, toda a cultura ocidental intimamente vivida através de vinte e tantos séculos, pois o sentimento democrático é apenas parte de uma paixão e de um romance muito maiores.
(Não cabe tratar aqui da premente questão referente à capacidade de outras civilizações para a democracia. A ordem liberal global pressupõe, em princípio, a capacidade universal para a democracia, e nesse ponto eu, pessoalmente, concordo. O problema é que a mesma ordem liberal não vive de acordo com esse princípio. Podemos discutir isso em outro momento.)
Em suma, por mais que se debata se o Brasil pertence plenamente ao Ocidente numa concepção político-diplomática, é inegável que pertence ao Ocidente, de maneira íntima e incontornável, no plano cultural-simbólico. A concepção do Ocidente como um conjunto de “valores” deveria estar incrustada na concepção cultural-simbólica, porque não se sustenta sozinha. Há que reembasar o Ocidente no terreno cultural-simbólico, fertilizando o terreno político-diplomático, cuja atual aridez, ao lado de uma confiança excessiva em “valores” assépticos, não permite sustentar-nos no curso desta aventura ancestral.
O Ocidente é como um barco de Ulisses abandonado na praia (ou, para nós brasileiros, uma jangada de Ulisses, retomando o título do romance de Viana Moog), um barco que talvez ainda possamos empurrar de volta ao divino mar salgado, eis hála dían.